Naturalistas Viajantes
(Parte 2) Jean de Léry fala do Espírito Santo e do Rio de Janeiro de 1500
29 de janeiro de 2018Jean de Léry viu coisas que não têm preço, porque era a primeira vez que eram vistas e porque foi há mais de 400 anos.
A história de Jean de Léry (1536-1613) é preciosa e precisa ser acompanhada. Este é o segundo capítulo da viagem de Jean Léry ao Brasil. Ele entrou de gaiato no navio do poderoso Nicolas Durand de Villegaignon (1510-1571) e, para nossa sorte, passou a fazer relatos importantes sobre o Brasil recém descoberto. As histórias que o artesão e futuro pastor calvinista deixou aos brasileiros deveria ser leitura obrigatória em todas escolas. Com a mesma competência, trabalhava o couro e as palavras. Os sapatos e botas que saíram de suas mãos não mais existem, mas suas aventuras e observações estão eternizadas.
Claude Lévi-Strauss em ‘Tristes Trópicos’, assim se refere a Léry: “A leitura de Léry me ajuda a escapar de meu século, a retomar contato com o que eu chamaria de ‘sobre-realidade’, não aquele de que falam os surrealistas, mas uma realidade ainda mais real do que aquela que testemunhei. Léry viu coisas que não têm preço, porque era a primeira vez que eram vistas e porque foi há mais de quatrocentos anos”.
ÍNDIOS CAPIXABAS
Jean Léry aporta pela primeira vez nesta “quarta parte da Terra” ao norte de Espírito Santo no final de fevereiro de 1557 e tem a oportunidade de observar de perto os índios, durante um escambo. Seis homens e uma mulher visitam o navio e “depois que admiraram nossas peças e tudo o mais que desejaram no navio, (…) tratamos de pagar-lhes os víveres que nos haviam trazido. Mas como desconhecessem o pagamento em moeda, foi o mesmo feito com camisas, facas, anzóis, espelhos e outras mercadorias usadas no comércio com os índios. Essa boa gente que não fora avara ao chegar, de mostrar-nos tudo quanto trazia no corpo, do mesmo modo procedeu ao partir, embora já vestisse camisa. Ao sentarem-se no escaler, os índios arregaçaram-se até o umbigo a fim de não estragar as vestes e descobriram tudo que convinha ocultar, querendo, ao despedir-se, que lhes víssemos ainda as nádegas e o traseiro. Agiram como honestos cavalheiros e embaixadores corteses. Contrariando o provérbio comum entre nós de que a carne é mais cara do que a roupa, revelaram a magnificência de sua hospedagem mostrando-nos as nádegas, na opinião de mais valem as camisas do que a pele”.
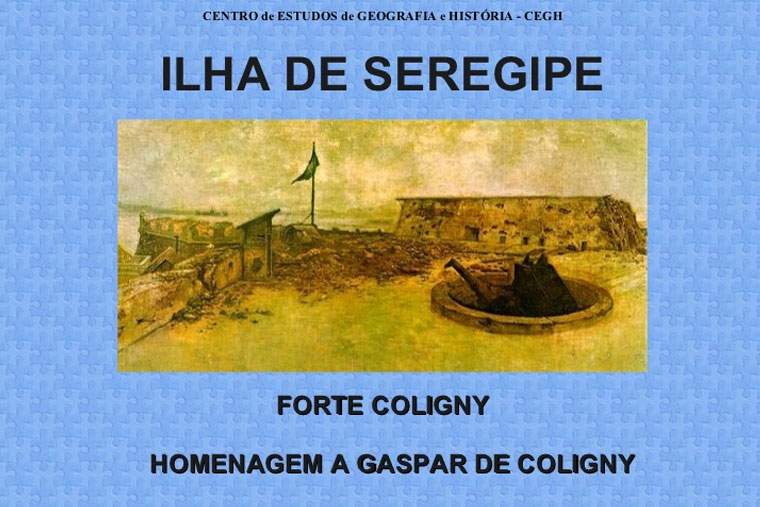
O Forte Coligny, hoje desaparecido, estava localizado no interior da baía da Guanabara, na ilha de Henri, atual Ilha de Villegaignon. Este forte foi o núcleo do estabelecimento colonial francês na baía da Guanabara – a França Antártica (1555-60), sob o comando de Nicholas Durand de Villegagnon (1510-71). Em março de 1557 uma segunda expedição, sob o comando do Capitão Bois-le-Compte, sobrinho de Villegagnon, chegou à Guanabara com reforços: três navios novos e bem artilhados, transportando 290 colonos. O calvinista Jean de Léry, integrante desse reforço, resumiu a chegada dos primeiros franceses ("Histoire d´un voyage en terre de Brésil", 1578): "(…) Assim, antes de partir de França, Villegagnon prometeu a alguns honrados personagens que o acompanharam, fundar um puro serviço de Deus no lugar em que se estabelecesse. E depois de aliciar os marinheiros e artesãos necessários, partiu em maio de 1555, chegando ao Brasil em novembro, após muitas tormentas e toda a espécie de dificuldades”.
GUANABARA
Depois de um quase naufrágio na região de Macaé, ocasião em que o mestre e o piloto do navio “em vez de se mostrarem os mais imperturbáveis e animarem os companheiros, vendo o perigo exclamaram duas ou três vezes: ‘estamos perdidos’”, as naus passam por Cabo Frio, “aí que pela primeira vez vimos papagaios voando alto e em bando como os pombos e gralhas na França, e pude observar que andam sempre acasalados à maneira de nossas rolas. (…) No domingo, 7 de março, deixando o mar alto à esquerda, do lado do leste, entramos no braço de mar chamado Guanabara pelos selvagens e Rio de Janeiro pelos portugueses, que assim o denominaram por tê-lo descoberto, como afirmam, no 1º de janeiro”.

Ilha de Villegagnon, detalhe de pintura de Alfred Martinet, ao fundo o Pão de Açucar.
O grupo é recebido por Villegaignon, o pai Colás dos indígenas, no forte em construção. Após as orações e a troca de amabilidades, as intenções religiosas são reafirmadas. Uma refeição “de farinha feita de raízes e peixe moqueado” precede o primeiro regalo de pai Colás: “Como sobremesa própria para refazer-nos dos trabalhos no mar, mandaram-nos carregar pedras e terra para as obras do Forte Coligny, que se achava em construção”.
PÃO DE AÇUCAR, O ROCHEDO PIRÂMIDE
Na descrição da paisagem à entrada da baía, Léry assim se refere ao Pão de Açúcar: “Faz-se mister, em seguida, transpor um estreito que não chega a ter um quarto de légua de largura, e é limitado à esquerda por um rochedo em forma de pirâmide, não somente de grande altura mas ainda maravilhoso porque de longe parece artificial. E por ser redondo como uma torre imensa, denominaram-no os franceses hiperbolicamente ‘pot-au-beurre’”.
Logo as dissensões filosóficas se estabelecem e depois de oito meses de mão de obra barata, o forte é terminado. Jean de Léry e alguns companheiros são expulsos do forte e se instalam com “na praia, ao lado esquerdo do rio Guanabara, num lugar denominado pelos franceses ‘Briqueterie’ (olaria) e que dista apenas meia légua do fortim”.
A convivência entre os selvagens, “pelos quais éramos tratados com mais humanidade que pelo patrício que gratuitamente não nos podia suportar, e comíamos e bebíamos entre eles”, se prolonga por mais alguns meses, enquanto aguardam oportunidade de retornar à França.
————————————————————————————————————————————-
PRÓXIMA EDIÇÃO 288 – Março de 2018 – JEAN DE LÉRY – Parte 3
O que Jean de Léry observa e anota permanecerá por séculos como documento raro do reencontro de seres humanos, separados há 40 mil anos, desde que deixaram a África para dominar o planeta. O modo de viver dos indígenas impressiona nosso magoado cronista, recém egresso de um ambiente em litígio filosófico.

